Em sua crítica à montagem dos Satyros para o Vestido de Noiva, Sérgio Sálvia Coelho fez uma definição bastante precisa: ao desvincular o universo de Nelson Rodeigues da época em que o texto foi escrito, a trupe da Roosevelt conseguiu tirar o dramaturgo do museu. De fato, a montagem conseguiu abrir mão do formato A Vida Como Ela É, mas não deu conta (ou não fez questão) de tirá-lo do Rio de Janeiro - coisa que nem mesmo a montagem malucona do alemão Frank Castorf para o Anjo Negro conseguiu (na verdade, acredito que Castorf não tenha se importado com esse detalhe, uma vez que não impedia os atores de arrebentarem tijolos, derrubar paredes ou recitar Heiner Müller em alemão enquanto cuspiam melancia).
Ao ouvir falar de uma montagem portuguesa para Dorotéia, logo fiquei curioso para ver um Nelson montado por quem está a uma distância (geográfica e cultural) bem saudável do Rio de Janeiro (afinal, o Castorf roubou no jogo, usando elenco brasileiro). Isso foi no ano passado, quando foi anunciado que a peça da Companhia de Teatro de Braga estaria no Porto Alegre em Cena. Na última hora, a atração portuguesa foi cancelada (assim como o próprio Anjo Negro alemão, que eu tanto queria rever) e eu fiquei só na vontade. Menos de um ano depois, cá aparece o espetáculo, fechando a programação do I Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo. Eba.
Logo ao entrar no auditório Simón Bolívar, uma primeira surpresa: enquanto o público se acomodava, em cena aberta já havia três figuras estranhíssimas vestindo mantos negros e com os rostos cobertos por tecidos que faziam com que parecessem múmias. Cada uma segurava no ar uma tábua enorme e martelava, incansavelmente, produzindo um som incômodo. O cenário, inteiro branco, com o chão inclinado na direção da platéia, evidenciava uma quarta figura, mascarada, vestida de branco, dentro de uma espécie de altar. Quem raios eram aquelas figuras todas? Que tinham a ver com o universo de Nelson? Cadê o jeitão de filme do Neville D’Almeida? Nem começou o espetáculo e eu já estava gostando…
Como é de praxe na obra do dramaturgo, o espetáculo se desenvolve dentro do ambiente doméstico, sempre normal e agradável para quem vê do lado de fora, e sempre decrépito para quem observa seu interior. Não por acaso, a melhor metáfora para esta estrutura é um caixão fúnebre, único elemento que permanece no palco do início ao fim do espetáculo, e para onde a platéia está olhando no momento em que começa a aplaudir. Mas a leitura do grupo dirigido por Rui Madeira vai além dessa leitura: menos apegada ao universo específico do dramaturgo, a montagem assume um tom mais político e universal. Importa mais o fato de haver uma personagem que decide, por exemplo, que a casa não pode ter quartos para que não se durma, pois quem dorme sonha - e naquela família não é permitido sonhar - do que o clima de pornochanchada.
Ajuda ainda na construção do espetáculo o texto, recheado de elementos não-realistas - como o jarro que aparece para assombrar Dorotéia ou o fato da menina Das Dores se casar com um par de botinas (armadilhas perigosas para quem encara tudo como um flerte com o surrealismo, numa solução fácil). No caso desta montagem, estes elementos são tratados como metáforas e ganham um despojado (e leve) toque de realismo, promovendo, desta forma, mais que um flerte - uma paquerinha boba - com o teatro do absurdo. Ô delícia.
Ao término da apresentação, fica apenas uma pergunta: por que ninguém (CCSP? SESC? Alguém por aí?) aproveitou esse espetáculo para promover uma mini-temporada fora do festival? E, ao chegar em casa, descubro o blog da companhia, divulgando apresentações de Dorotéia e sua montagem do Auto da Barca do Inferno no teatro Arthur Azevedo e em algumas cidades da Grande São Paulo antes de embarcar para a Bahia. Alguém aí ficou sabendo, ou fui só eu o mal-informado?
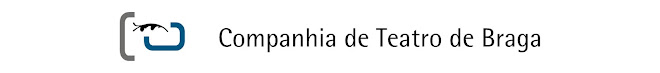


Sem comentários:
Enviar um comentário