Exmo. Senhor,
No passado dia 15 de Julho, subscrevemos uma carta dirigida a V. Excia. expondo a nossa preocupação pela forma como estavam a ser conduzidas as alterações ao regulamento do apoio público à criação artística, nomeadamente no que respeita à falta de envolvimento dos agentes culturais por ele abrangidos e ao calendário escolhido para este processo. Solicitámos ao Ministério da Cultura, neste sentido, “a ampla divulgação e justificação pública das alterações que pretende ver aprovadas, bem como dos prazos em que pretende fazê-lo, de forma a garantir o normal funcionamento das estruturas de criação financiadas pelo Estado”.
Na sequência desta iniciativa, o Senhor Director-Geral das Artes entendeu convocar-nos para uma reunião. Neste encontro, que teve lugar a 22 de Julho, o responsável pela DGA teceu algumas considerações genéricas sobre os objectivos da alteração legislativa e comprometeu-se a: 1) enviar-nos a proposta do novo Decreto-Lei para que pudéssemos analisá-la e emitir a nossa opinião; 2) estudar a possibilidade de abrir um curto mas amplamente divulgado processo de discussão pública entre os agentes culturais.
Quando aguardávamos, em vão, a satisfação destes dois compromissos, fomos surpreendidos pela notícia da aprovação, no Conselho de Ministros do passado dia 14 de Agosto, do novo Decreto-Lei, cujo conteúdo continua sem ser publicamente conhecido, nem sequer nos sítios oficiais do Ministério da Cultura ou da Direcção-Geral das Artes.
Confirmaram-se, quanto ao método adoptado, os piores receios que manifestámos há um mês atrás. As alterações foram preparadas num incompreensível e muito preocupante ambiente de secretismo, tendo sido discutidas apenas com um restrito grupo de pessoas e instituições escolhidas pelo Ministério. Ao que se sabe, foram ouvidas duas estruturas – a Rede, da área da dança, e a Plateia, ligada ao Teatro. Neste segundo caso, trata-se de uma associação que não representa sequer o teatro da cidade onde tem sede, o Porto. Viemos a saber mais tarde que foi aberta uma segunda via de “discussão”, junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com carácter de “urgência” e “confidencialidade”. O Ministério solicitou-lhe um parecer a 7 de Agosto, estabelecendo o dia 13 como data-limite para a resposta. O Decreto-Lei foi aprovado no Conselho de Ministros menos de 24 horas depois, a 14 de Agosto. O que pensarão os autarcas, particularmente os que repararem neste calendário, quanto ao tipo de discussão pública solicitada pelo Ministério da Cultura? Qual foi o caixote do lixo para onde foi atirado o parecer da ANMP?
Trata-se de um grave desvio ao princípio da transparência que deve orientar o exercício do poder num Estado democrático, sobretudo tendo em conta que a legislação agora alterada (o Decreto-Lei 225/2006, de13 de Novembro) foi aprovada, por este mesmo Governo, na sequência de um amplo e participado processo de consulta aos agentes culturais. Relembramos que, na sequência de várias visitas a estruturas e agentes culturais por todo o país, a anterior Ministra e o anterior Secretário de Estado apresentaram publicamente o projecto de decreto-lei, com grande solenidade simbólica, numa sessão aberta a todos os interessados, no Centro Cultural de Belém. Para além do debate aí realizado, seguiu-se depois um período de discussão pública, de onde resultou o regulamento provavelmente mais discutido e consensual dos últimos anos. O que justifica, agora, esta pressa e este secretismo por parte do Ministério da Cultura? A quem interessam estas alterações e esta forma envergonhada de proceder?
O facto de terem sido ignorados os contributos que poderiam ser dados por aqueles que trabalham no terreno há vários anos e melhor conhecem as características, as dificuldades e as potencialidades do sector tem consequências substanciais na qualidade do novo regulamento. Saliente-se, a propósito, que a legislação em causa pretende regular a prestação de um Serviço Público na área da cultura, concretizado através de parcerias contratualizadas entre o Ministério e entidades privadas, singulares ou colectivas. Não faria pois sentido, neste contexto, que tais entidades fossem pelo menos informadas e ouvidas antes da aprovação do regulamento?
O documento agora aprovado, ao qual fomos forçados a aceder de uma forma “clandestina”, precisamente através das autarquias, ressente-se desta falta de participação pública. Ao contrário do que chegou a ser dito pelos responsáveis do Ministério, este novo regulamento não introduz apenas “pequenas alterações” na legislação anterior. Ele corresponde a uma mudança significativa do espírito e da filosofia inerente às normas aprovadas em 2006 e é marcado por fortes contradições internas, afastando-se dos compromissos assumidos no Programa deste Governo, cujo cumprimento até ao final do mandato, em matéria de “Valorizar a Cultura” (Capítulo II, Ponto II) se afigura cada vez mais distante.
1. A desestruturação do sector
Nos últimos anos, a regulamentação do apoio à criação artística vem sofrendo alterações profundas ao ritmo dos sucessivos governos (1998, 2003, 2006) – depois do mandato de Manuel Maria Carrilho, que criou o Instituto Português das Artes do Espectáculo (depois Instituto das Artes e hoje Direcção-Geral das Artes), entrámos num autêntico carrossel legislativo, que tem como única e contraditória consequência a total desestruturação do sector que o Estado se propõe apoiar. Em 2002 iniciou-se a primeira revisão, que foi aprovada em 2003 e entrou em funcionamento em 2004. Em 2005 anuncia-se nova revisão e inicia-se a discussão pública dos regulamentos que, aprovados em 2006, deveriam entrar em vigor em 2009. A alteração agora aprovada introduz um caso insólito, ao incidir sobre um regulamento aprovado já no corrente mandato e cujos principais efeitos práticos nem sequer chegaram a entrar em vigor. Como estamos no último ano de mandato do actual Governo, é fácil imaginar o que vai acontecer em 2009/2010...
Por si só, estas constantes modificações têm impedido a consolidação das estruturas de criação existentes no país, permanentemente confrontadas com alterações nos objectivos e nas regras definidos pelo Estado.
Elas limitam-se a tentar sobreviver ao dilúvio legislativo que sobre elas se tem abatido e já só pedem que,por uma vez, deixem uma lei aprovada funcionar durante um período razoável de tempo.
O programa de governo reconhece isso mesmo e, propondo-se “esclarecer regulamentações e missões” e evitar “descontinuidades indesejáveis”, parecia dar-nos razão, até ao surgimento deste novo processo de alteração.
No preâmbulo do decreto-lei agora aprovado é igualmente enunciada a “necessidade de consolidação, dinamização e desenvolvimento sustentado das actividades artísticas”. Na prática, no entanto, ele vai na direcção oposta, ao revogar alguns dos passos importantes que haviam sido dados na legislação de 2006 e que iriam começar agora a ser aplicados.
Falamos, por exemplo, das definições de “núcleo profissional permanente” e de “tempo integral ou equivalente”, conceitos que a anterior regulamentação veio introduzir. Eles constituíam um primeiro mas essencial contributo para a clarificação do que é uma estrutura profissional de criação artística, necessariamente diferente (em termos de estabilidade, de recursos necessários e de compromissos assumptíveis) quer de criadores a título individual, quer de outro tipo de estruturas de criação, em que a maioria ou a totalidade dos seus membros desenvolve paralelamente outro tipo de actividades. Em nome de uma equívoca interpretação do conceito de “equidade” e justificando-se com o suposto “favorecimento” de algumas entidades, o novo regulamento pura e simplesmente anula esta clarificação, pondo “em pé de igualdade”, num mesmo concurso, realidades substancialmente diferentes. Para além de ignorar uma conclusão a que este governo já havia chegado – não se pode comparar o que é incomparável – a nova (velha) metodologia despreza o potencial de uma adequada distinção entre diferentes tipos de entidades e de projectos, tanto na qualidade e diversidade do serviço público prestado quanto na rentabilização e racionalização dos fundos nele investidos.
Com a mesma preocupação de clarificação, lê-se no Programa de Governo: “importa separar o
financiamento à criação do financiamento à programação”. Coerentemente, o decreto-lei agora revogado previa processos diferenciados para estas duas áreas, que na verdade correspondem a vectores complementares, mas distintos, do Serviço Público na cultura. Nos casos em que uma mesma estrutura acumulasse as duas funções, deveriam ser estabelecidos contratos diferentes, distinguindo-se com clareza os financiamentos e as responsabilidades específicas de cada caso. Pelo contrário, e sem que para isso se apresente qualquer justificação, o novo regulamento acaba com esta distinção, indicando erroneamente que o decreto-lei anterior “desconsiderava” as entidades “que conjugam criação e programação”. Não se trata de uma mera questão formal: sem uma adequada clarificação do papel da criação artística numa sociedade, será impossível estruturar qualquer política cultural coerente para o país e será impossível, em última instância, definir, acompanhar e avaliar a forma como é concretizada a missão de serviço público nesta área.
2. O reforço da arbitrariedade
Uma das justificações avançadas pelo Ministério da Cultura para esta alteração prende-se com o suposto “favorecimento” de algumas entidades em relação a outras. Não chega a entrar em vigor, por isso, o “regime simplificado” previsto pelo decreto-lei de 2006. No caso do teatro, este regime previa que estruturas de criação com mais de 15 anos de actividade, apoiadas há mais de oito anos pelo Ministério da Cultura, com um núcleo profissional permanente e com acesso regular a instalações licenciadas pudessem ser convidadas, mediante a obtenção de um parecer favorável das comissões nomeadas pelo Ministério da Cultura que acompanharam o seu trabalho ao longo dos últimos quatro anos, a celebrar um contrato-programa com a Direcção-Geral das Artes, sem necessidade de ir a concurso. Vale a pena reflectir sobre
estes pré-requisitos. Não só são exigentes como assentam em avaliações feitas directamente pelo Ministério, que através deles controla a qualidade do serviço público que é prestado: se uma determinada companhia foi apoiada durante oito anos significa, no mínimo, que já foi avaliada por três júris diferentes e que os dois últimos puderam já avaliar a sua capacidade para cumprir as obrigações previstas nos contratos anteriores. Além disso, são chamadas a pronunciar-se, sobre o trabalho de cada companhia, as comissões de acompanhamento e avaliação, que existem desde 2004 e funcionam regionalmente, na dependência directa do Ministério. Só existiria “favorecimento” se o Estado não confiasse nos mecanismos de avaliação e controlo que ele próprio criou e financia.
Em oposição a este regime “simplificado”, o novo decreto-lei mantém a regra que tem vigorado até aqui: todas as entidades terão que ir a concurso, em “pé de igualdade”, independentemente do seu perfil. Alarga-se assim, afirma-se, “o leque das entidades beneficiárias”. Defendida como mais “equitativa”, esta opção é, na verdade, menos séria: uma estrutura com mais de 15 anos e que há pelo menos oito tem sido sucessivamente apoiada pelo Ministério não deu já provas suficientes de qualidade, idoneidade e responsabilidade para que o Estado decida contratualizar directamente com ela a prestação de um serviço público? uma estrutura com um núcleo profissional permanente (mínimo de 5 pessoas a tempo integral, incluindo o/a director/a artístico/a) está “em pé de igualdade” com uma outra composta apenas por pessoas para quem a criação artística é uma actividade complementar às suas outras profissões? uma estrutura cujo trabalho nos últimos quatro anos foi acompanhado e positivamente avaliado por uma comissão de acompanhamento, nomeada pelo Ministério da Cultura, está em “pé de igualdade” com outra que não foi sujeita a esse acompanhamento?
Num cenário em que todas as estruturas continuarão a ter que estar sujeitas a concurso, vale a pena reflectir sobre a composição e a forma de funcionamento dos júris a quem caberá avaliar as propostas. Ao contrário da lei que vigorava em 2004 (data dos últimos concursos para contratos quadrienais e bienais), o actual governo optou por eliminar os júris regionais e regressar à fórmula de um júri nacional para cada área artística. Não temos sobre isso nenhuma posição de princípio, a não ser a que reside numa constatação de facto: serão muito poucas as pessoas que estão em condições de avaliar o trabalho e os percursos desenvolvidos nos últimos anos pela globalidade das estruturas espalhadas pelo país, condição indispensável para que, com rigor, se possa compreender, comparar e hierarquizar projectos. Aumentam exponencialmente, portanto, os riscos de a avaliação residir exclusivamente no formato gráfico das candidaturas e na capacidade retórica de quem as redige, menosprezando contextos, realidades específicas, provas dadas no terreno e, sobretudo, as linguagens e identidades artísticas que caracterizam cada estrutura de criação. Aumenta exponencialmente, em consequência, a sujeição dos criadores artísticos à arbitrariedade de um reduzido conjunto de pessoas. A “garantia de transparência e equidade no processo concursal” que o novo decreto-lei pretende ver reforçada sai pois, pelo contrário, seriamente diminuída.
Neste contexto, é fundamental que as pessoas que venham a ser nomeadas para esta função (e sobre as quais recai a responsabilidade de possibilitar a sobrevivência ou condenar ao desaparecimento estruturas de criação com percursos reconhecidos) sejam efectivamente: 1) idóneas; 2) isentas e 3) conhecedoras da realidade da criação artística em todo o território nacional – é absolutamente chocante que alguém possa avaliar o trabalho de uma estrutura sem que o conheça. Por razões de transparência, os nomes das pessoas que vierem a ser escolhidas devem naturalmente ser divulgados antes da abertura dos concursos.
3. Descentralização
Falámos até aqui de questões que afectam, de uma forma geral, a qualidade e a eficiência do novo regulamento naquela que é a sua função essencial: assegurar as condições para a existência de criação artística em Portugal no âmbito de uma missão de serviço público. Na definição que faz de “serviço público”, o novo decreto-lei inclui a descentralização como um dos seus elementos-chave: “promover e consolidar o acesso às actividades artísticas de todos os portugueses e estrangeiros residentes em Portugal, independentemente da sua área de residência (...)” e “promover e consolidar o desenvolvimento equitativo das actividades artísticas em todo o território nacional e a correcção das assimetrias regionais”.
Ocorre que os problemas que detectámos e enunciámos até aqui são particularmente gravosos para as estruturas de criação artística sediadas fora de Lisboa, já hoje a braços com dificuldades específicas que o governo teima em ignorar e que têm condicionado de forma muito séria as possibilidades de uma efectiva descentralização cultural no país.
A manutenção das indefinições quanto ao que é uma estrutura profissional de criação artística, mantendo o conceito (e, por arrasto, o sector) numa abstracção onde cabe tudo, favorece as situações de precariedade laboral, os regimes de trabalho a tempo parcial, o duplo ou triplo-emprego e o recurso sistemático aos “recibos verdes”. Nenhuma das ideias feitas sobre as “especificidades” do sector artístico ou sobre o gosto dos artistas pela “liberdade” serve para justificar o que decorre, antes de mais, das enormes dificuldades das estruturas em manter um quadro mínimo de pessoal com alguma estabilidade. Nenhuma destas ideias feitas resolve os problemas das principais vítimas desta situação – os artistas, técnicos e produtores que trabalham nas estruturas – nem contribui para a consolidação do sector. Se é verdade que esta situação é comum a Lisboa e ao resto do país, a capacidade que as estruturas têm, num e no outro lado, para lidar com ela é muito diferente. Enquanto que, na capital, se encontra facilmente, por exemplo, um actor que aceita participar num espectáculo de teatro, conseguindo conciliá-lo com as gravações de um programa televisivo, com dobragens ou com outra qualquer actividade, os custos de contratação de pessoal especializado (na actuação, na técnica ou na produção) nas outras cidades são naturalmente muito maiores, porque, na prática, obrigam a contratos de exclusividade e a subsídios de alojamento.
Por outro lado, o regresso aos júris nacionais, no actual contexto da criação artística em Portugal, é claramente prejudicial para as estruturas sediadas fora de Lisboa, permanentemente diminuídas no acesso aos órgãos de comunicação nacionais e praticamente excluídas de qualquer “roteiro” da crítica que por cá se faz. Também aqui, o “pé de igualdade” é uma perigosa ilusão: uma estrutura cujas estreias são regularmente noticiadas nos diários de referência e nos suplementos culturais de fim-de-semana e que tem pelo menos um ou dois dos seus espectáculos anuais a merecer uma crítica está “em pé de igualdade” com outra que é sistematicamente ignorada pelos jornais nacionais e que só consegue uma crítica quando consegue apresentar os seus espectáculos em Lisboa?
4. O disfarce do sub-investimento
O decreto-lei de 2006, agora revogado, assentava implicitamente num objectivo estratégico definido pelo Programa de Governo:
“O compromisso do Governo, em matéria de financiamento público da cultura, é claro: reafirmar o sector como prioridade na afectação dos recursos disponíveis. Neste sentido, a meta de 1% do Orçamento de Estado dedicada à despesa cultural continua a servir-nos de referência de médio prazo, importando retomar a trajectória de aproximação interrompida no passado recente.”
Só isto permitiria, acrescenta o documento, “retirar o sector da cultura da asfixia financeira em que três anos de governação à direita o colocaram”. E não será por acaso que o diploma entraria realmente em vigor apenas em 2009, no último ano de mandato do actual governo.
Acontece que, ao invés, o orçamento para a cultura tem vindo a diminuir, reflexo da crescente perda de peso político e de capacidade reivindicativa do respectivo Ministério. O falhanço completo do segundo objectivo enunciado no Programa de Governo – “valorizar o investimento culturalmente estruturante, na negociação do próximo Quadro Comunitário de Apoio (2007-2013)” – é disso um outro bom exemplo.
Neste contexto, mesmo a legislação agora revogada anunciava-se já como uma enorme decepção e só poderia ser cumprida caso o próximo Orçamento Geral do Estado invertesse a tendência que este governo(que criticava os anos da “direita”) viria afinal a acentuar entre 2006 e 2008. Ela abria um enorme conjunto de expectativas, alargando o número de concursos, de programas e de entidades a apoiar e destinava-lhes depois verbas ridiculamente baixas, como se viu (entre os poucos concursos que chegaram a ser abertos no seu âmbito) no caso dos “protocolos tripartidos”, cujo montante global para todo o país se cifrava em 200 mil Euros.
Na perspectiva de que o orçamento para 2009 não trará, afinal, nenhuma inversão desta tendência, o novo diploma parece não ser mais do uma forma de disfarçar o crónico, escandaloso e cada vez mais grave sub-financiamento do sector. Ele surge como uma espécie de “bodo aos pobres”, que se limita a manter tudo na
mesma, dando pouco a muitos e procurando distribuir o mal pelas aldeias.
Em conclusão, e apesar de não terem sido convidadas para o efeito, as companhias de teatro abaixo-assinadas entendem ter a obrigação de manifestar o seu desacordo face ao essencial das alterações recém-aprovadas, nas quais não vêem qualquer sentido estratégico. Pelo contrário, constatamos que se trata de um regresso ao passado, que irá manter o sector na agonia em que permanece há vários anos, com os resultados que se conhecem.
Com o regulamento de 2006, agora revogado antes mesmo de começar a funcionar, o Estado tinha dado um passo muito importante nesta área: pela primeira vez, dispunha de um mecanismo legal para considerar os casos concretos de cada estrutura e estabelecer contratos estáveis com aquelas que entendesse serem as mais bem posicionadas para esse fim, de acordo com critérios claros e definidos em função do interesse público.
O novo regulamento deita por terra essa oportunidade e continua, na prática, a considerar o financiamento público da criação artística como matéria acessória no âmbito da intervenção estatal, numa desresponsabilização caritativa e paternalista, que se limita a dar dinheiro e se desinteressa dos resultados, apesar da retórica da “fiscalização”. Com os meios que afecta a este capítulo do investimento público e dispersando-os sem nenhuma espécie de ancoragem na realidade do terreno, o Estado perde em eficiência e na qualidade dos resultados o que (só eventualmente) ganha com a tranquilidade mediática de quem tem as suas clientelas satisfeitas.
Recusamo-nos a pactuar com esta visão redutora e instrumental do papel da criação artística. Por isso voltamos a manifestar a nossa disponibilidade para verdadeiramente trabalhar em parceria com o Estado, enquanto entidades responsáveis e responsabilizáveis, com provas dadas e trajectos reconhecidos, para a concretização de objectivos comuns e de interesse público.
As nossas companhias são algumas das 10/12 estruturas de criação espalhadas pelas principais cidades fora de Lisboa e Porto, que constituem um sector específico no sistema teatral português. Ao longo das últimas décadas, têm dado um inquestionável contributo para o desenvolvimento cultural do país – oferecendo uma voz própria às cidades onde estão sediadas, activando redes de circulação e intercâmbio, dinamizando espaços e justificando a construção ou recuperação de outros, formando públicos, auxiliando escolas e universidades no processo educativo, formando e integrando no mercado de trabalho os novos profissionais, estabelecendo colaborações com outras instituições, nacionais e internacionais.
Não valorizar o capital destas estruturas, a sua implantação no terreno e o reconhecimento que souberam merecer com o trabalho desenvolvido parece-nos um contra-senso, até do ponto de vista da mera gestão dos recursos disponíveis. Embora constrangidas pela asfixia financeira que o próprio governo reconhece no seu Programa, elas dispõem de recursos humanos e técnicos e de uma implantação no terreno de que não faz sentido que o Estado abdique na definição e na concretização de qualquer estratégia de desenvolvimento.
Com os melhores cumprimentos,
ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve
A Escola da Noite – Grupo de Teatro de Coimbra
Centro Dramático de Évora
Companhia de Teatro de Braga
Teatro das Beiras
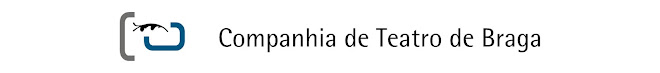


Sem comentários:
Enviar um comentário